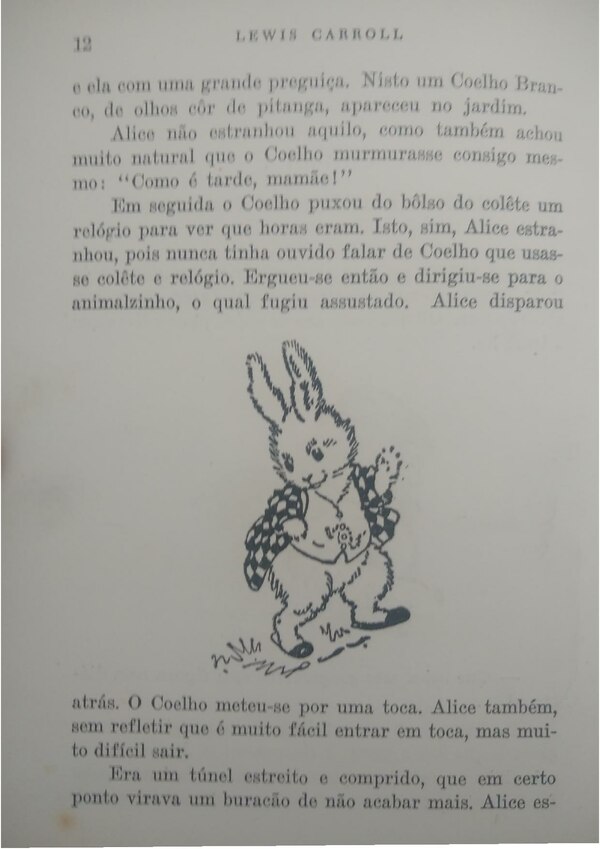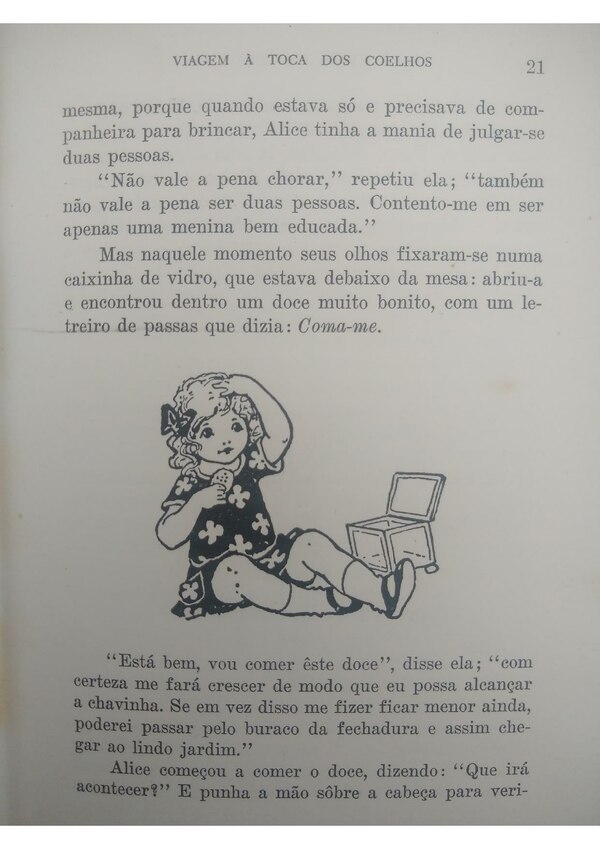Alice no País das Maravilhas (Trad. Lobato, 8ª edição)/Capítulo 1
CAPÍTULO I
VIAGEM À TOCA DOS COELHOS
ALICE ESTAVA sentada com sua irmã num banco do jardim. Como não tivesse o que fazer, começou a aborrecer-se. Olhava com cara de enjôo para o livro que a irmã lia.
— Que coisa sem graça, livro sem figura nem diálogos!...
Do livro o seu olhar foi ter a um canteiro de margaridas que havia perto, e ela pensou lá dentro da sua cabecinha se valeria a pena levantar-se do banco para fazer um buquê. Pensou só, porque o dia estava quente e ela com uma grande preguiça. Nisto um Coelho Branco, de olhos côr de pitanga, apareceu no jardim.
Alice não estranhou aquilo, como também achou muito natural que o Coelho murmurasse consigo mesmo: “Como é tarde, mamãe!”
Em seguida o Coelho puxou do bôlso do colête um relógio para ver que horas eram. Isto, sim, Alice estranhou, pois nunca tinha ouvido falar de Coelho que usasse colête e relógio. Ergueu-se então e dirigiu-se para o animalzinho, o qual fugiu assustado. Alice disparou atrás. O Coelho meteu-se por uma toca. Alice também, sem refletir que é muito fácil entrar em toca, mas muito difícil sair.
Era um túnel estreito e comprido, que em certo ponto virava um buracão de não acabar mais. Alice escorregou e caiu no buraco. Caiu, e foi caindo e não acabava mais de cair. Ou então foi caindo tão devagar que o buraco parecia mais fundo do que realmente era. Alice nunca pôde esclarecer êste ponto.
Enquanto ia caindo, ia olhando para baixo, a ver se enxergava alguma coisa. Nada enxergou; o fundo era escuro como a noite. Olhou então para os lados e viu muitos armários e estantes de livros, e também mapas pendurados. Num dêsses armários havia um pote com letreiro. Alice leu: “Laranjada”. Destampou o pote, já lambendo os lábios é com água na bôca. Vazio! De raiva, ia jogá-lo no fundo do buraco; mas lembrou-se que poderia cair na cabeça de alguém e botou-o de novo no lugar. E continuou a cair.
Sim, senhor! “pensou com o seus botões. “Depois duma queda destas fico mestra em tombos. Poderei cair da escada lá em casa sem susto nenhum. E até do telhado! E todos vão arregalar os olhos, espantados da minha valentia.”
Alice caiu, caiu, caiu. Não chegava nunca ao fim do buraco. “Quantos quilômetros já terei descido? pen- sou. Com certeza estou pertinho do centro da terra, a uns 6.600 quilômetros, talvez.”
Alice tinha aprendido na escola aquilo de quilômetros e centro da terra. Por isso aproveitou o momento para recordar a lição.
Sim continuou. “A distância que já caí deve andar nuns 6.600 quilômetros, pelo menos. Em que latitude e longitude estarei?”
Outra coisa que tinha ouvido na escola: isso de latitude e longitude. Não sabia o que era, mas gostava de repetir palavras tão científicas.
Depois disse: “Gostaria de saber se estou caindo bem a prumo pelo interior da terra. Seria engraçado se atravessasse a terra inteirinha e fôsse sair do outro lado, onde está a gente que anda de cabeça para baixo. Creio que se chamam “antípedes.” Alice pensou isso, mas percebeu logo que tinha errado. Era antípodas que queria dizer. E ficou muito satisfeita de que sòmente tivesse pensado errado, em vez de dizer errado em voz alta. Imaginem se alguém a ouvisse pronunciar semelhante asneira!”
E pôs-se a imaginar a sua chegada à terra dos antípodas. Encontraria na rua uma senhora. Dirigia-se a ela e perguntaria: “Diga-me, cara senhora: é isto por aqui a Nova Zelândia ou a Austrália?” (Fêz a pergunta de modo muito gentil, como é de uso entre as meninas bem educadas.) Mas viu logo que se assim procedesse daria sinal de ignorância, e resolveu que nada perguntaria. Em vez disso, olharia para os letreiros das casas e as placas das ruas para verificar em que país estava, sem ter necessidade de perguntar nada a ninguém.
Alice continuava a cair, cair, cair. Não podia fazer outra coisa senão cair. Para matar o tempo, começou a pensar na sua gatinha Diná. “Coitada! Creio que Diná vai estranhar muito a minha ausência esta noite. Bom será que não se esqueçam de lhe dar o seu pires de leite, à hora do chá. Minha cara Diná, eu só queria ver você aqui neste buraco para caçar uns morcegos. Sim, porque estou caindo no ar e no ar não há rato, há morcegos, que são ratos de asas. Mas será que gato come morcêgo?”
Alice começou a sentir uma certa sonolência e nesse estado o pensamento fica preguiçoso. Entrou a repetir muitas vezes a mesma frase: “Gato come morcêgo?” As vêzes repetia errado: “Morcêgo come gato?” E como não obtivesse resposta continuava a repetir sempre a mesma pergunta. Por fim sentiu que ia adormecer e que começava a sonhar. Sonhou que estava passeando com a Diná e que ia dizendo à gatinha: “Mas será mesmo verdade que você come morcêgo?”
Nisto, zás! tropeçou num monte de paus e folhas sêcas. Tinha chegado ao fundo do buracão.
Alice não se machucou. Ergueu-se de um pulo e olhou para cima. Nada pôde ver; tudo escuro como a noite. Olhou para a frente; havia um corredor por onde naquele momento ia passando o Coelho Branco. Correu-lhe empós e pôde vê-lo murmurar numa esquina: “Como é tarde, como é tarde!” Alice também dobrou a esquina, mas não viu mais o Coelho. Em vez do Coelho deu com uma grande sala iluminada de numerosas lâmpadas pendentes do teto.
Nas paredes havia portas, mas tôdas fechadas. Tentou abri-las; não pôde. Ficou então no meio da sala, a olhar para todos os lados, convencida de que seria muito difícil sair dali.
De repente se achou defronte de uma mesa de três pés, tôda de cristal. Em cima viu uma pequena chave de ouro, que imaginou ser de alguma das portas. Experimentou-a em tôdas as fechaduras, verificando que não servia em nenhuma. Dando outra volta Alice reparou numa cortina que não havia notado antes. Atrás da cortina existia uma portinha de um palmo de altura, na qual a chave de ouro serviu muito bem.
Aberta a portinha, Alice descobriu um novo corredor, estreito e bastante comprido, que parecia caminho de ratos. Ajoelhou-se, espiou e viu, bem no fundo, um belíssimo jardim. Quis ir para lá, mas como passar por uma portinha tão estreita? Nem sua cabeça cabia. “Oh, exclamou, que pena a gente não ser como os óculos de alcance, que espicham à vontade! Se eu pudesse espichar-me, como óculos de alcance ou bala puxa-puxa, iria, já e já, ver aquêle jardim tão lindo.”
Não sendo possível aquilo, Alice ergueu-se e voltou para perto da mesa, esperando encontrar outra chave ou algum livro mágico que lhe ensinasse a virar em óculos de alcance ou bala puxa-puxa. Só encontrou um vidrinho (que antes não estava lá) com um letreiro dizendo: Beba-me.
“Muito fácil dizer “beba-me”, pensou Alice," mas não sou nenhuma tôla para ir bebendo o que não sei o que é. Vou ler o que está escrito em baixo do letreiro para verificar se não é veneno.”
Alice havia lido várias histórias de meninas que se queimaram, ou foram devoradas pelas feras, por não darem atenção ao que os pais ensinam. Sabia que quando a mamãe diz, por exemplo: ferro em brasa queima, faca de ponta espeta, navalha corta o dedo e sai sangue, porque tudo isso é verdade. Sabia também que bebendo qualquer droga de vidro marcado com a palavra Veneno, o certo é morrer de morte horrorosa. Mas como o vidrinho não trazia a palavra Veneno, Alice resolveu provar o líquido que havia nêle. Provou-o com a ponta da língua; achou-o gostoso. Provou mais e acabou bebendo tudo (de fato era apenas um licor de cereja muito bom.)
“Que coisa esquisita!” exclamou Alice. “Parece que estou a encolher-me tôda, como um óculo de alcance!”
E assim era. Estava encolhendo tanto, e tanto encolheu, que ficou de meio palmo de altura. Chegou a sentir-se nervosa, de mêdo de ficar pequenininha como tôco de vela de árvore de Natal.
Isso também não. Essas velas vão diminuindo, diminuindo, e de repente o pavio cai para um lado e era uma vez a vela. Extinguem-se. Não! Não! Não queria acabar a vida assim. E esperou uns minutos, muito ansiosa, a ver se parava de encolher. Felizmente parou em meio palmo. Ora graças!
Assim que se pilhou pequenininha, correu à portinhola com a idéia de ir ao jardim. Mas lembrou-se que a tinha fechado e pôsto a chave em cima da mesa. E agora? Como tirar a chave de lá? Alice tentou todos os meios. Tentou subir por uma das pernas da mesa; tentou pular. Nada conseguiu e, desesperada, sentou-se no chão e chorou.
De repente disse para si mesma: “Bôba! De que vale chorar?” Alice era menina inteligente e prática, das tais que costumam dar bons conselhos a si mesmas. Às vêzes chegava a ponto de repreender-se com tanta severidade que se punha a chorar. Uma vez estêve a ponto de castigar-se a si própria com pancadas — uma vez que cometeu um erro muito grave numa partida de croquet que estava jogando consigo mesma. Sim, consigo mesma, porque quando estava só e precisava de companheira para brincar, Alice tinha a mania de julgar-se duas pessoas.
“Não vale a pena chorar,” repetiu ela; “também não vale a pena ser duas pessoas. Contento-me em ser apenas uma menina bem educada.”
Mas naquele momento seus olhos fixaram-se numa caixinha de vidro, que estava debaixo da mesa: abriu-a e encontrou dentro um doce muito bonito, com um letreiro de passas que dizia: Coma-me. “Está bem, vou comer êste doce”, disse ela; “com certeza me fará crescer de modo que eu possa alcançar a chavinha. Se em vez disso me fizer ficar menor ainda, poderei passar pelo buraco da fechadura e assim chegar ao lindo jardim.”
Alice começou a comer o doce, dizendo: “Que irá acontecer?” E punha a mão sobre a cabeça para verificar se estava crescendo ou diminuindo. Mas com grande surprêsa viu que permanecia na mesma, nem maior, nem menor. Ficou desapontada com o doce. Era um doce comum, um doce ordinário, dêsses que estava acostumada a comer todos os dias. Um doce natural, em suma, e Alice só gostava das coisas extraordinárias. Lembrou-se de que talvez fôsse diferente se comesse o doce inteiro — e comeu-o todinho.

Esta obra entrou em domínio público pela lei 9610 de 1998, Título III, Art. 41.